Inverno II
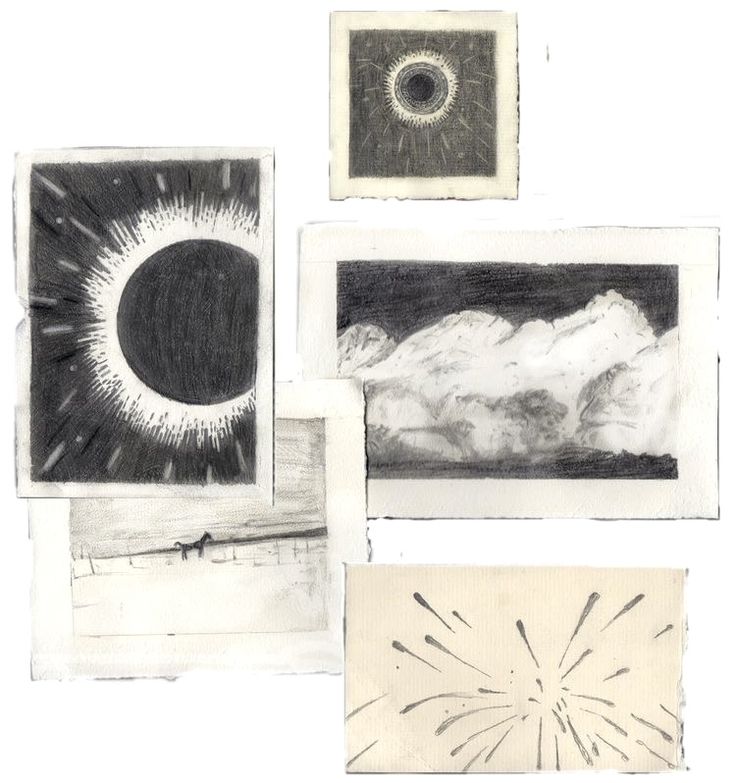
Voltando para Graz, Áustria
Meus últimos dias em Graz foram caóticos, e nem sei como começar algo que, no fundo, sempre esteve ali desde o primeiro dia em que cheguei: o sentimento de desconforto por sair do Brasil em busca de um lar e parar em um lugar no qual não me sinto em casa. Após um ano de regras que não são minhas e uma máscara de perfeição estampada no rosto, eu desabei como qualquer ser humano um dia desaba. Me desgasta pensar em escrever os diálogos, as acusações, as mágoas, as ameaças de polícia, o choro, o seguro, o curso, as horas. Como toda relação que acaba, ficam as seguintes perguntas: quem é essa pessoa? A culpa é minha ou dela? A indignação de não acreditar no que o outro é capaz.
Com o peso nas rodas da mala — que quebrou no mesmo instante em que coloquei os pés fora de casa —, fui embora sem me despedir da montanha que tanto aliviou meus anseios no último ano. No coração, mais liberdade do que prisão. Sabia que ainda havia muito a se caminhar. Penso nos fins como não sendo bons nem ruins, preto nem branco. Era o fim e o início de algo, e, enquanto eu esperava o ônibus, com as mãos tremendo de desespero por algo que ainda não sabia exatamente o que era, também agradecia ao caminho que ainda não via, na próxima curva, por me estender as mãos e não me deixar cair no abismo. Há sempre um novo caminho.
A realidade e a expectativa colidem — é como se buscássemos um ideal inexistente e nos afundássemos na sombra da verdade, do real, do palpável. Me fecho como uma concha enquanto tento entender meu próprio processo de assimilar a quebra da fantasia.
Cheguei em Praga, capital da República Tcheca e da antiga Tchecoslováquia, onde está localizado o maior castelo do mundo, no dia 29 de dezembro, de madrugada.
Em frente à Câmara Municipal, no centro antigo de Praga, está o Relógio Astronômico mais antigo do mundo em funcionamento. Construído em 1410, ele fica na Torre Astronômica. De hora em hora, se move — os 12 apóstolos deixam a área interna, junto com outros bonecos, e fazem uma pequena caminhada.
Pelas ruas de arquitetura gótica e kafkiana, Praga abriga a mais antiga sinagoga da Europa, construída em 1270. Diz a lenda que algumas das pedras utilizadas em sua construção vieram do antigo templo do rei bíblico Salomão. Se é verdade ou não, tampouco me interesso — meus olhos estão vidrados na ponte central, onde todos os dias encontro um grupo de músicos de rua que cantam e tocam, com o cigarro no canto da boca, enquanto o sol se põe. Eu e ela trocamos olhares de confidencialidade e falamos sobre o futuro, o passado, o presente.
Passei o Ano Novo com ela, selando o primeiro beijo do ano — presságio do que ainda estava por vir.
De Praga, seguimos para uma cidade no interior da República Checa. Fora das grandes cidades, tudo parece vilas construídas por avós, habitadas por senhores que passam o dia a tricotar e assar bolachas de chocolate no forno. Pequenas casas para grandes pessoas.
Nessa nova casa, fomos recebidas por um rato — e um pequeno quarto era grande o suficiente para duas pessoas apaixonadas. Foram dias tranquilos, leves, como tinham que ser, como se ela sempre estivesse ali como parte de mim.
Esperamos seis horas no Burger King para ir a Viena. O plano era dormir no aeroporto e, no dia seguinte, embarcar para a Albânia. Engraçado como a ideia de passar perrengue quase sempre é melhor do que o perrengue em si. Ou estaria eu velha e cansada, perdendo assim o espírito de aventura? Há uma glamourização em torno da vida hippie, dos perrengues na estrada à la beatnik, mas a verdade é que já passava das 23 horas, meu corpo pedia banho e comida, e meu útero se contorcia de cólica. Após uma noite agitada, dormindo no chão do aeroporto e esfregando minha axila com um lencinho umedecido, embarcamos rumo a Tirana.
Chegamos à capital da Albânia, país que saiu do comunismo há apenas 30 anos. A maior parte da energia elétrica é roubada — e, acreditem, a rede de energia do país está ciente da situação. As ruas me lembram um país há muito conhecido na memória, minha terra natal, com a arquitetura nada linear e as casas escondidas entre becos. Penso que, geralmente, há mais coração na pobreza do que na riqueza.
Chegamos a Himarë. A água parece congelar o mar, como se o tempo parasse e eu pudesse fazer um pedido. Mas, se eu olhar cuidadosamente, consigo captar por uma fração de segundo os movimentos da água. Como seria ser um peixe? Uma sereia? Estima-se que, hoje, mais de 80% dos oceanos ainda permaneçam inexplorados. Isso significa que daqui a 100, 200 anos — ou amanhã — talvez tudo que se conhece agora e se tem como verdade absoluta mude. A cronologia da evolução diz que os platelmintos, ou vermes achatados, são os animais mais antigos a terem um cérebro e a mais simples forma de vida com simetria bilateral. Eles também são os mais simples constituídos de três camadas germinativas. Por volta desse período, o ancestral comum dos insetos e dos humanos se originou. Isso significa que, em algum momento da minha existência, eu fui um verme. Depois, quem sabe, uma enguia, depois um peixe — até que, milhões de anos se passaram, e nasci como um chimpanzé no Quênia. E hoje estou aqui, na Albânia, olhando o mar e pensando que tudo começou ali, nessa imensidão obscura e desconhecida.
No caminho para Himarë, tentei manter-me acordada para admirar a estrada. Quando eu era pequena e ia para o interior visitar meus avós, costumava brincar que a estrada era a boca enorme de algum dinossauro e o carro estava sendo dirigido dentro daquele estômago. Não faço a mínima ideia de onde surgiu essa brincadeira, mas era isso que me fazia ficar acordada e admirando a mudança de paisagem — do asfalto para as montanhas, das montanhas para o campo de milho, do milho para túneis, prédios, galinhas e terra. Nos últimos anos, foi ficando cada vez mais difícil admirar a estrada, e viajar se tornou uma meditação. Fecho os olhos, tento sincronizar meus batimentos cardíacos com a velocidade da estrada. O percurso até Himarë foi engraçado: parecia um filme hippie de comédia, onde caíam pedaços da poltrona, o motorista escutava uma música árabe no último volume, leis de trânsito quase inexistentes, e, à minha frente, um saco de urina pendurado — e só Deus sabe há quanto tempo — no assento dianteiro.
Algo me diz que essa viagem ficará guardada na memória.